Os 10 melhores livros de 2025: para quem ainda acredita que ler serve para alguma coisa
O título diz dez. A lista tem sete. Se isso incomoda, o problema não é a lista.

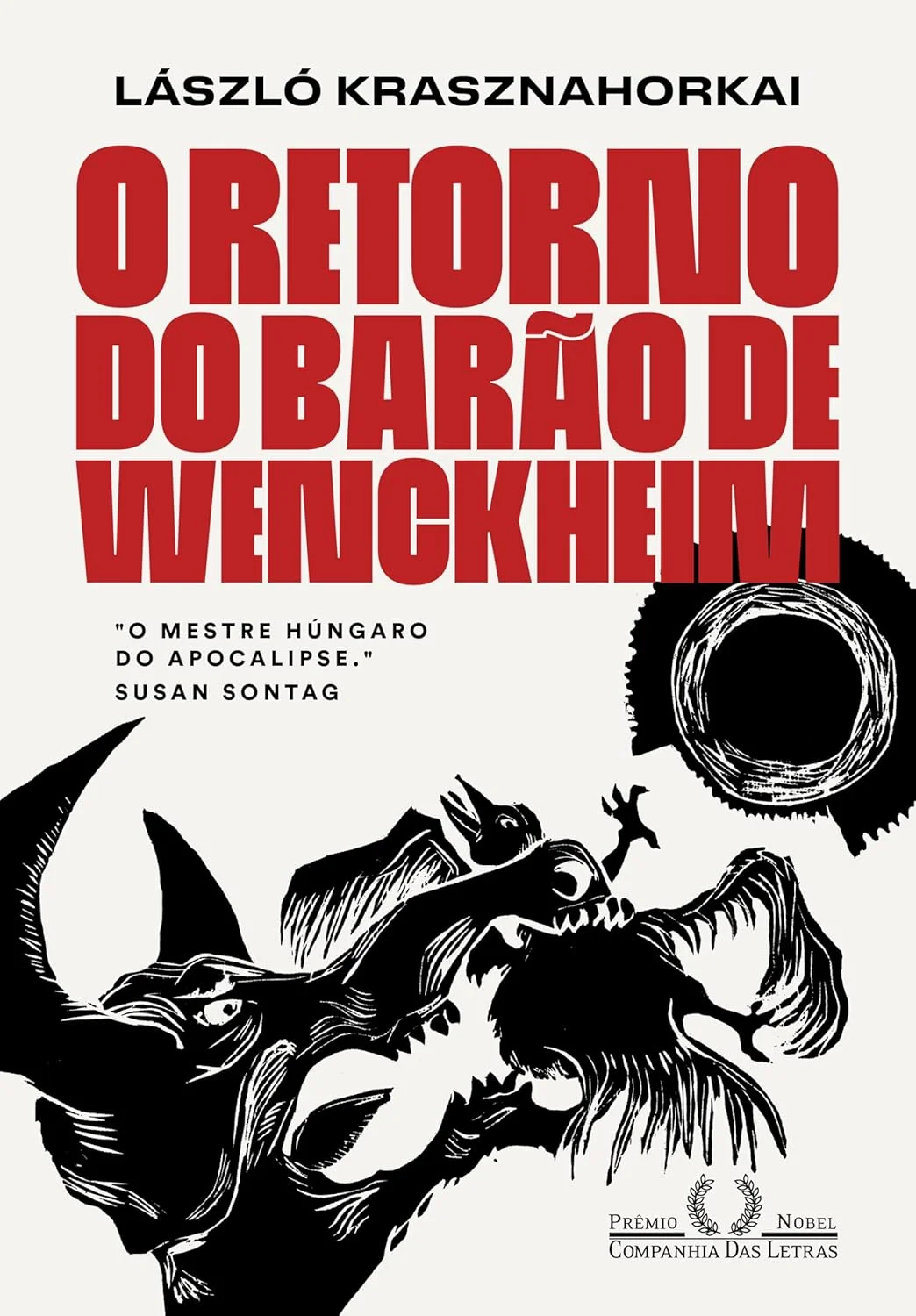
O título diz dez. A lista tem sete. Não é erro. É que não teve dez livros em 2025 que merecessem estar aqui. Eu poderia ter inventado três para cumprir o formato. Colocado livros competentes, bem escritos, corretamente elogiados. Livros que funcionam. Que não erram. Que fazem exatamente o que prometem e desaparecem no dia seguinte. Preferi não insultar o leitor nem os sete que ficaram.
Há um dado que vai incomodar algumas pessoas antes mesmo de começarem a ler: não tem livro brasileiro. Nenhum. Zero. Isso pode significar três coisas. Ou eu tive azar e perdi os bons. Ou os autores brasileiros tiveram azar e eu li os ruins. Ou a literatura brasileira em 2025 decidiu coletivamente que obediência ao mercado editorial, autoficção requentada e prosa “acessível” bastavam como projeto estético. Não sei qual das três é verdade. Provavelmente as três ao mesmo tempo, em proporções que variam conforme o grau de má-fé de quem analisa.
Isso não é uma crítica nacionalista ao contrário. É apenas constatação. Num ano em que li mais de cem livros novos, nenhum brasileiro conseguiu ficar. Não por falta de competência técnica. Por falta de INSISTÊNCIA. De risco. De disposição para incomodar o leitor em vez de servi-lo. A literatura brasileira contemporânea, salvo exceções que claramente não cruzaram meu caminho, parece ter feito as pazes com a ideia de ser lida e esquecida. Um serviço cultural. Uma experiência gerenciável.
Os livros que ficaram nesta lista fizeram outra coisa. Não avançaram. GIRARAM. Repetiram ideias até o desconforto. Criaram sistemas próprios e se recusaram a ajudar. Não explicaram por que estavam ali. Não pediram paciência. Não ofereceram recompensa clara. Esses livros não passaram. Ficaram trabalhando em segundo plano, como zumbido cognitivo difícil de desligar.
Essa lista não é um ranking. É um filtro pós-trauma. O que sobrou depois de aceitar que tempo é finito e que a maior parte da literatura contemporânea quer apenas ser lida, não suportada. Aqui estão os livros que não cooperaram. E por isso, IMPORTARAM.
7. A Contagem dos Sonhos
Chimamanda Ngozi Adichie

O romance acompanha duas gerações de uma família nigeriana. Mãe e filha. Caminhos que se cruzam e se afastam entre Lagos, Londres e os Estados Unidos. A mãe carrega o peso de escolhas feitas cedo demais. A filha herda expectativas que não pediu e tenta construir algo próprio num terreno que nunca é inteiramente seu. O enredo não se organiza como saga épica. Ele se move por deslocamentos. Mudanças de país, de língua, de classe. De expectativa sobre si mesmo.
Adichie ficou conhecida por Americanah e pelo TED que virou mantra de internet, aquele sobre o perigo da história única. Construiu uma carreira sendo lida como porta-voz. Como explicadora de África para plateias ocidentais bem-intencionadas. A Contagem dos Sonhos faz um movimento diferente. Recua da declaração. Investe na ambiguidade. Os personagens não ilustram teses. Eles erram. Insistem. Repetem padrões mesmo sabendo que vão falhar.
O que torna o livro menos confortável do que parece é a recusa em dramatizar. Adichie não constrói clímax. Ela acumula. Pequenas concessões. Pequenas violências aceitas. Pequenas escolhas que pareciam reversíveis até não serem mais. O sonho do título não é meta. É déficit. A conta que nunca fecha entre o que se projetou e o que se suporta viver.
A adaptação aqui não é a versão celebrada nos discursos de formatura, aquela que transforma diferença em superação. É a outra. A adaptação como erosão. Como cálculo diário de quanto dá para ceder antes de virar outra pessoa. O efeito é o de assistir a um mecanismo de defesa funcionando em tempo real. O leitor reconhece. Talvez reconheça demais. A pergunta que o livro faz em silêncio: quanto de mim sobra depois de me tornar LEGÍVEL para o outro?
Por que ler: Porque adaptação, aqui, não é virtude. É sintoma.
6. Memória de Menina
Annie Ernaux
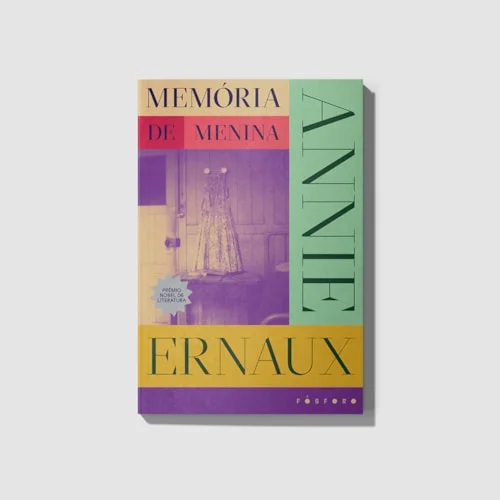
Verão de 1958. Ernaux tem dezoito anos e trabalha como monitora numa colônia de férias. Lá, vive uma experiência sexual com H., um homem mais velho, também monitor. O caso é breve, intenso, público demais. Termina em humilhação. O livro existe porque essa humilhação nunca foi embora. Cinquenta anos depois, Ernaux volta ao episódio não para curar, mas para EXAMINAR. O que aconteceu. O que ela fez. O que permitiu. O que queria. O que inventou depois para suportar.
Ernaux ganhou o Nobel em 2022, mas seu método já estava maduro décadas antes. Ela chama de “autossociobiografia”. Não é confissão. Não é terapia. É dissecção. O eu pessoal serve como material de análise, não como objeto de redenção. Em O Acontecimento, ela fez isso com um aborto clandestino. Em Os Anos, com a própria vida inteira dissolvida em contexto histórico. Memória de Menina é o ponto mais exposto desse projeto. O mais difícil de sustentar.
O gesto central do livro é a recusa de se proteger. Ernaux não narra a jovem de 1958 com ternura nem com distância irônica. Ela a observa como quem observa um caso clínico. A vergonha, o desejo, a submissão, a necessidade de ser vista - tudo aparece como produto de classe, de época, de estrutura. Nada é só pessoal. Nada é só psicológico. A menina que se humilhou por um homem medíocre era também a filha de comerciantes numa França onde o corpo feminino tinha donos antes de ter desejos.
O livro termina sem reconciliação. A jovem não é resgatada. A adulta não se redime. A escrita não cura. Ela impede o esquecimento confortável. E só.
Por que ler: Porque Ernaux não transforma trauma em identidade nem memória em virtude. Ela mantém a ferida aberta o suficiente para pensar.
5. Suttree
Cormac McCarthy

Knoxville, Tennessee, início dos anos 1950. Cornelius Suttree abandonou a família rica, a esposa, o filho, a trajetória previsível. Vive num barco podre às margens do rio Tennessee, pesca para sobreviver, bebe, circula entre bêbados, prostitutas, ladrões de melancia e um sujeito chamado Gene Harrogate que faz sexo com melancias. O livro acompanha esse não-enredo por quase quinhentas páginas. Nada se resolve. Nada se transforma. A vida acontece em episódios que não se conectam em arco.
McCarthy levou vinte anos para escrever isso. Publicou em 1979, antes de Meridiano de Sangue e muito antes de A Estrada. É o livro mais autobiográfico dele, escrito quando ele próprio vivia em Knoxville em condições parecidas com as do protagonista. Isso importa porque, depois das revelações biográficas recentes sobre McCarthy, ler Suttree produz um curto-circuito. O livro não “explica” o autor. Ele desmonta a ilusão de que obra nasce de distância moral. Suttree não emana sabedoria. Ele emana convivência prolongada com o desajuste.
O mundo aqui é sujo, repetitivo, às vezes grotesco, às vezes estranhamente lírico. Personagens entram e saem sem função dramática clara. Prisões, doenças, bebedeiras, mortes sem significado especial. A narrativa não organiza o caos. Convive com ele. McCarthy escreve como quem sabe que a vida, quando observada de perto demais e por tempo demais, perde qualquer verniz narrativo.
A separação entre autor e obra vale aqui, mas não do jeito preguiçoso. Não para absolver McCarthy. Nem para condenar o livro. Serve para lembrar que uma obra pode ser verdadeira sem ser edificante, profunda sem ser exemplar, honesta sem ser ÉTICA no sentido socialmente confortável. O romance não pede admiração. Pede tolerância ao excesso, à repetição, à falha. A literatura não existe para resolver o autor. Existe para suportar o que nem ele resolveu.
Por que ler: Porque este livro não quer ser salvo por contexto nenhum. Ele permanece incômodo mesmo depois de fechado.
4. O Polonês
J. M. Coetzee
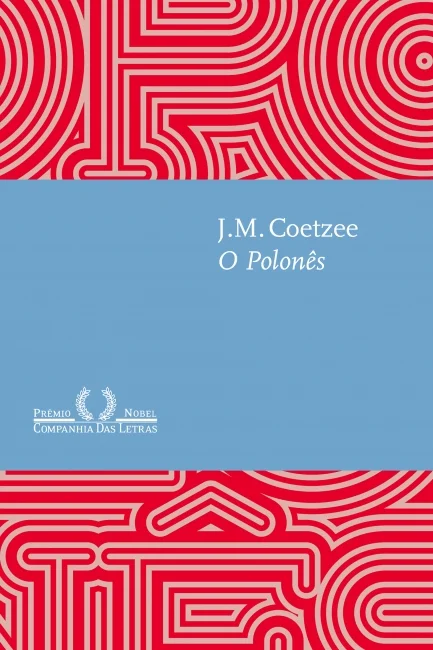
Witold é um pianista polonês, velho, fora de época. Vai a Barcelona para um concerto. Lá conhece Beatriz, uma mulher casada que faz parte do comitê de recepção. Algo começa entre eles. Não é caso. Não é amizade. Não é nada que tenha nome confortável. Há encontros formais, conversas educadas demais, cartas que dizem pouco, silêncios longos. Witold insiste. Beatriz não recusa nem aceita. O livro inteiro se sustenta nesse atrito mínimo, nesse vínculo que não deveria existir e não consegue parar de existir.
Coetzee ganhou o Nobel em 2003. É sul-africano de nascimento, mas vive na Austrália há décadas, e essa condição de deslocamento permanente atravessa tudo que ele escreve. Desde À Espera dos Bárbaros até Desonra, seus personagens ocupam posições que não cabem. Professores que desejam alunas. Colonizadores que duvidam do império. Homens que não sabem mais o que fazer com o próprio corpo. O Polonês leva isso ao limite da secura. Não há grande conflito. Há INADEQUAÇÃO sustentada por duzentas páginas.
O texto funciona por subtração. Coetzee retira passado, retira trauma, retira interioridade explicada. Sobra gesto. Sobra constrangimento. Cada interação carrega um desconforto crescente, não porque algo escandaloso acontece, mas porque nada se encaixa. Witold quer algo que não sabe nomear. Beatriz talvez também queira, mas não vai dizer. O leitor assiste esperando uma chave, um julgamento, uma saída ética. Nada vem.
O efeito é estranho e persistente. Coetzee não oferece amparo. Ele mantém a cena aberta, quase indecorosa na sua simplicidade, até o desconforto deixar de ser do personagem e passar a ser do leitor.
Por que ler: Porque este livro insiste no constrangimento como experiência literária. E não pede desculpas por isso.
3. O Bom Mal
Samanta Schweblin

Uma família aluga uma casa de veraneio e a filha pequena desaparece por algumas horas. Quando volta, algo nela mudou. Não é óbvio. Não é nomeável. Mas está ali. Em outro conto, uma mulher cuida obsessivamente de preservar a rotina doméstica enquanto o marido apodrece no sofá. Literalmente. Ninguém comenta. A vida segue. O livro reúne histórias assim. Situações que começam reconhecíveis e vão deslizando, sem aviso, para um lugar onde a lógica funciona diferente. O estranho não irrompe. Ele já estava instalado desde o início.
Schweblin é argentina, vive em Berlim, e virou uma das vozes mais consistentes dessa ficção latino-americana que trabalha com o INQUIETANTE sem precisar de monstros. Distância de Resgate foi finalista do Man Booker International. Pássaros na Boca já mostrava o método: cortar explicação, cortar psicologia, deixar o leitor perceber antes de entender. O Bom Mal leva isso mais longe. Mais seco. Mais implacável.
O mal do título não é espetacular. É funcional. Surge como proteção, zelo, normalidade excessiva. O perigo nunca vem de fora. Ele nasce da própria lógica de cuidado, de proximidade, de dependência. A mãe que protege demais. A esposa que ignora demais. O vizinho que ajuda demais. O livro não julga. Ele observa. E a observação é tão precisa que incomoda.
Os contos terminam onde o incômodo deveria começar. O texto acaba rápido. A sensação fica. Schweblin confia no desconforto como efeito durável. Cada frase parece calibrada para retirar do leitor qualquer apoio emocional. Não há empatia fácil. Há reconhecimento tardio. E é esse atraso que torna os contos difíceis de largar.
Por que ler: Porque o medo mais persistente não vem do choque. Vem da normalidade levada um passo além do tolerável.
2. O Museu da Rendição Incondicional
Dubravka Ugrešić

Berlim, anos 1990. A narradora é uma escritora croata em exílio. A Iugoslávia acabou. Zagreb virou capital de um país que ela não reconhece. Ela vaga por cidades europeias colecionando fragmentos. Fotografias da mãe. Histórias de outros exilados. Objetos sem dono. O título vem de um museu real em Berlim, aquele que guarda os destroços da rendição alemã em 1945. O livro funciona da mesma forma. Um depósito de restos. Coisas que sobraram de vidas que não existem mais.
Ugrešić é croata mas virou persona non grata no próprio país por se recusar a aderir ao nacionalismo dos anos 1990. Chamaram-na de bruxa. De traidora. Ela foi embora e nunca voltou direito. Vive na Holanda. Escreve em croata para um público que em parte a odeia e em parte finge que ela não existe. Isso atravessa tudo que ela faz. A condição de quem perdeu não só um país, mas a língua como território seguro.
O livro não tem trama. Tem acúmulo. Cada capítulo funciona como vitrine de museu. Fotografias, lembranças, histórias interrompidas. A narradora não tenta reconstruir identidade coerente. Ela aceita a ruína. O exílio aqui não é só geográfico. É linguístico, afetivo, NARRATIVO. Pertencer aparece sempre como algo já perdido.
Ugrešić escreve contra a nostalgia organizada. Não idealiza a pátria perdida. Não oferece consolo político. Recusa o heroísmo do exilado e a pornografia da memória. O passado surge como resíduo. Pequeno, insistente, banal. É aí que o texto ganha força. Na recusa de transformar perda em épica.
Por que ler: Porque este livro não organiza a memória para você. Expõe o fracasso dessa organização. E insiste mesmo assim.
1. O Retorno do Barão Wenckheim
László Krasznahorkai
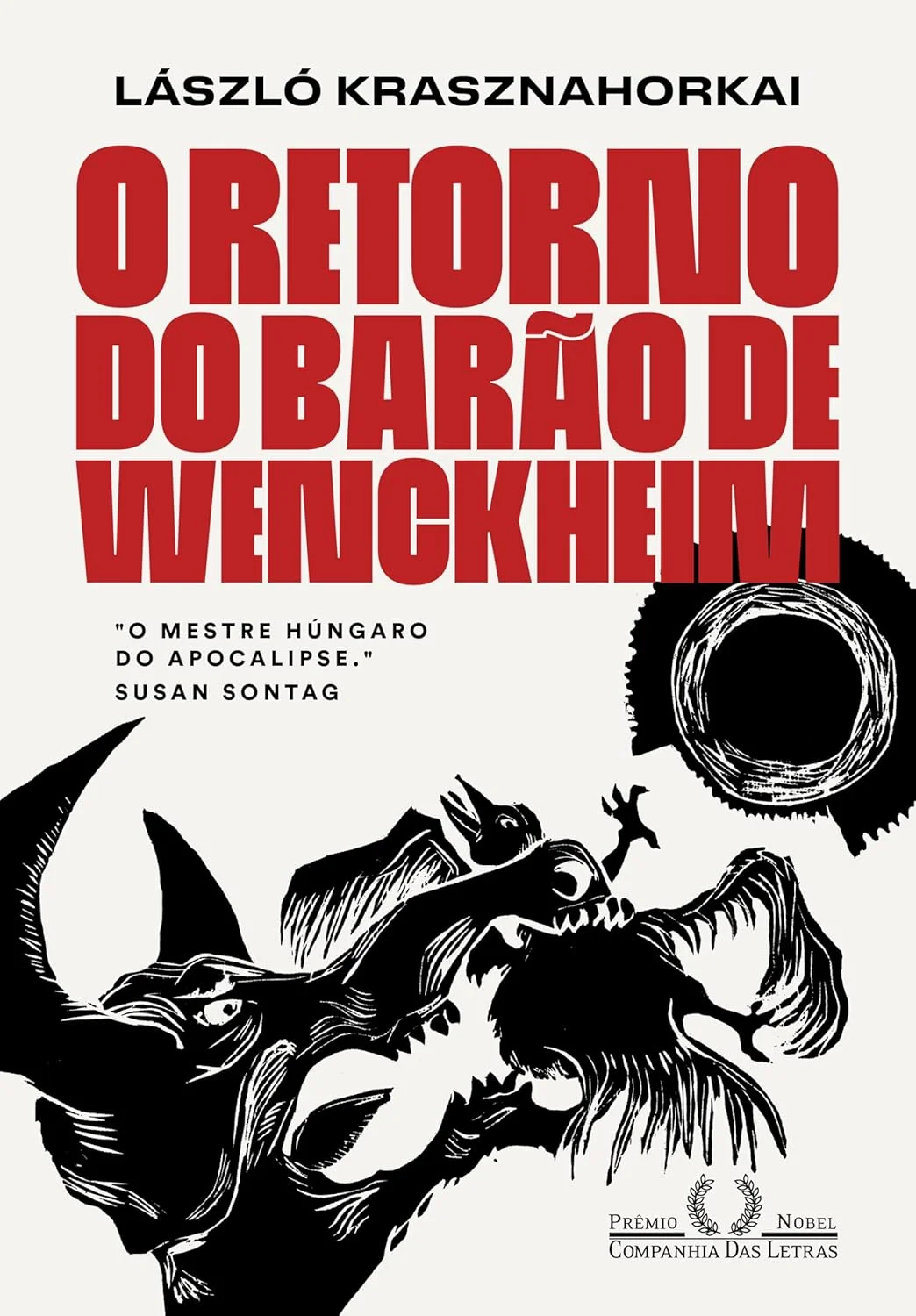
Uma cidadezinha húngara em decomposição. Ruas vazias, prédios caindo, gente que ficou para trás. De repente, a notícia: o barão Wenckheim vai voltar. Ele tinha partido décadas antes, foi para Buenos Aires, perdeu tudo jogando, sumiu. Agora está velho, doente, e quer morrer onde nasceu. A cidade inteira entra em delírio coletivo. O prefeito vê oportunidade política. A professora de piano vê um amor antigo. O dono do bar vê dinheiro. Todos projetam no barão a redenção que precisam. O livro acompanha essa espera. Os preparativos. As conspirações pequenas. A tensão de uma promessa que talvez não se sustente.
Krasznahorkai é húngaro, ganhou o Booker International em 2015 e o Nobel em 2025. Escreve como ninguém mais escreve. Frases que duram páginas. Parágrafos que não terminam. Uma sintaxe que força o leitor a se adaptar ou desistir. Sátántangó, seu romance mais conhecido, virou filme de sete horas nas mãos de Béla Tarr (e vale cada segundo). Os dois trabalham juntos há décadas. Dividem a mesma obsessão: o colapso como estado permanente. A espera por algo que não vem. O Retorno do Barão Wenckheim é o último volume de uma tetralogia que levou trinta anos para ser completada. É também o mais engraçado, se você tiver estômago para humor húngaro - aquele que ri do apocalipse porque não tem mais o que fazer.
Nada avança como narrativa tradicional. O retorno é menos acontecimento do que campo gravitacional. Personagens orbitam a promessa, repetem gestos, insistem em ideias que já perderam função. A cidade não se transforma. Ela se EXPÕE. O romance se constrói em suspensão contínua, como se a história estivesse presa entre o colapso e algo que nunca chega.
A prosa é longa, densa, deliberadamente repetitiva. Krasznahorkai não escreve para ser entendido rápido. Ele escreve para forçar um tipo específico de atenção. O momento em que você percebe que está lendo errado e não tem opção além de se adaptar. Não há psicologia explicada. Não há metáfora redentora. Há um mundo girando em falso e pessoas que continuam se movendo por inércia.
Este livro não fala sobre colapso. Ele OPERA nesse colapso. O leitor não observa de fora. Participa. Sai com a cabeça ocupada por um ritmo que demora a desaparecer.
Por que ler: Porque este romance não respeita o seu tempo. Ele exige o seu. Se algo ainda está rodando por dentro quando você fecha o livro, é porque funcionou.

Sicko
Ex editor de gente pelada. Agora lê livros.
